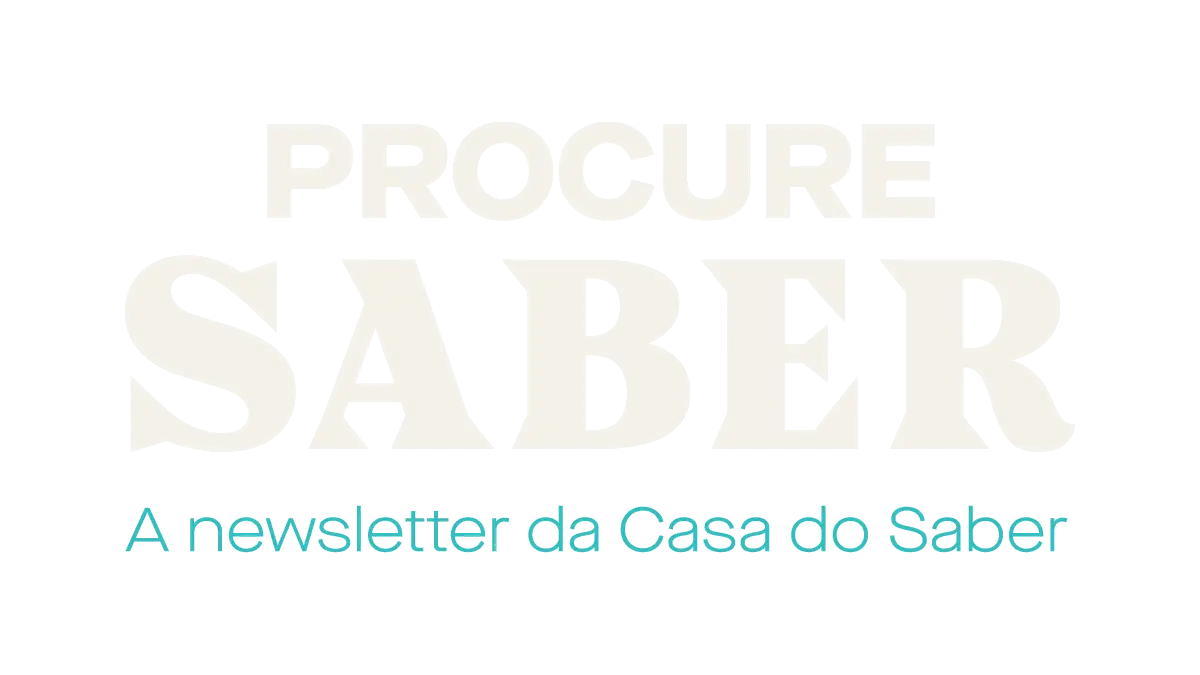Talvez você já tenha sentido isso: um aperto no peito ao ler uma notícia sobre o aumento exponencial de temperaturas extremas no mundo, uma tristeza incômoda ao saber sobre eventos e deslizamentos de terras em comunidades periféricas no Brasil, ou sentido um nó na garganta ao ver imagens do mar invadindo casas no litoral, além de um cansaço sem nome ao pensar em como vai ser a vida daqui a algumas décadas.
Talvez tenha sentido tudo isso de uma só vez, e depois guardado no inconsciente, porque não dava tempo de sentir ali, no meio do expediente, no intervalo de uma reunião, enquanto o mundo exige que a gente siga.
Pois agora, iremos te provocar: E se isso não for só cansaço? E se essa angústia difusa tiver nome e história?
Ansiedade climática (ou ecoansiedade) é um termo que vem ganhando força para nomear um mal-estar que cada vez mais pessoas reconhecem em si e no outro. Um desconforto que nasce do acúmulo de informações sobre a degradação do planeta, dos relatos de frio ou calor extremo, da sensação de impotência diante da dimensão dos desastres ambientais e da percepção de que algo, talvez tudo, está em colapso.
Mas essa angústia não é só racional, pois ela é também vivida no corpo. Ela se manifesta como tensão muscular, insônia, falta de ar, crises de pânico e/ou dificuldade de concentração. É o corpo dizendo o que a mente não consegue mais reprimir: o mundo como conhecemos está ruindo rápido demais, e nós não sabemos como atravessar isso.
Mais do que um estado individual, a ansiedade climática é uma expressão emocional de algo coletivo e emergencial, como uma resposta psíquica à ameaça real que o Antropoceno representa para a continuidade da vida.
E se somos sensíveis a isso, não é por fraqueza, é porque temos laços, vínculos, afeto; e não saber do amanhã e de como a natureza se comportará, se torna perturbador.
Há quem diga que o mundo não vai acabar amanhã. E é verdade, ao menos, não em um único grande evento. O colapso não é um meteoro que destrói tudo de uma vez e dizima a população mundial em 10 segundos.
Ele é cotidiano, fragmentado, contínuo, e já está em curso. Para muitas comunidades, o fim do mundo não é uma hipótese futura, mas uma experiência passada que se arrasta até o presente.
Povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e tantas outras populações já assistiram ao fim de seus mundos inúmeras vezes, seja através da invasão das terras, do aniquilamento de seus corpos, do desmatamento, do envenenamento das águas ou da violência do progresso.
O antropólogo Viveiros de Castro costuma dizer que esses povos são especialistas em fim de mundo. Eles sabem o que é reconstruir a vida a partir da perda, criar a partir dos escombros, pois há uma sabedoria ancestral em continuar existindo depois do fim. Em persistir, ainda que ferido, e recriar laços, mesmo que sob ruínas.
Longe de romantizar as formas originárias de continuar existindo, nosso exercício aqui é de encontrar os meios para continuar resistindo e insistindo na coletividade.
Essa sabedoria precisa ser ouvida, porque talvez sejam esses modos de existência os que têm mais a nos ensinar agora. Ouvir não apenas as vozes que denunciam a destruição, mas também as que apontam caminhos de reinvenção, e que falam de pertencimento à terra, de cuidado como prática política, de uma ética que não separa o corpo do ambiente e que nos coloca enquanto seres relacionais.
É nesse ponto que os afetos entram com força como uma potência mobilizadora. Medo, culpa, raiva, amor, esperança: todos esses sentimentos atravessam nossa percepção da crise climática.
Eles moldam nossa capacidade de agir ou de paralisar, assim como também nos afastam da realidade ou nos empurram para dentro dela. Esses sentimentos não se dão no vazio: acontecem em mim, em você e em nós.
A angústia individual está diretamente relacionada a angústia do outro, porque embora compartilhemos experiências distintas e em graus diferentes, elas se tratam das percepções sobre um mesmo fenômeno em comum.
Para o filósofo quilombola Nego Bispo, “chegamos como habitantes em qualquer ambiente, e vamos nos transformando em compartilhantes”, de modo que o nosso senso de pertencimento se dá através da nossa experiência social a partir do lugar que ocupamos.
É nesse sentido que não existe política ambiental sem afetos, assim como não existe transição justa sem tocar no que sentimos, porque só aquilo que nos afeta, individual e coletivamente, é capaz de nos mover.

Aprende-se a calar o choro, a evitar a dor, a seguir em frente a qualquer custo e de qualquer maneira, como se esse fosse um sinal de força individual.
Na lógica da eficiência, sentir é quase uma ameaça, como se o tempo que se gasta com o luto fosse um tempo perdido, e como se elaborar a perda fosse uma fraqueza.
Só que o colapso ambiental exige luto. Exige elaboração e tempo. Estamos perdendo espécies, paisagens, práticas, saberes, formas de viver, e isso precisa ser nomeado, sentido, reconhecido. Se não vivemos o luto, adoecemos. Se não damos nome à dor, ela se transforma em sintomas.
A ansiedade climática é, em muitos sentidos, uma manifestação desse luto interrompido, ou seja, um sofrimento psíquico que tenta dar conta de um vazio que ainda não sabemos preencher.
Por isso o negacionismo climático se tornou uma estratégia de recusa sobre o amanhã, pois estimula a compreensão de que é melhor viver em uma “feliz ignorância” do que encarar os fatos.
E o que é esse negacionismo climático, senão uma defesa psíquica? Uma forma de não entrar em contato com a dor?
Negar a angústia natural gerada diante dos desastres climáticos é uma estratégia falida de se poupar de um sofrimento que está sempre à beira do colapso. Seja de modo coletivo (ambiental) ou individual (psíquico), essa conta sempre chega.
Por isso, preservar o nosso consciente da potencial catástrofe que ocorre para além de nós enquanto sujeitos, é um desafio da sociedade e não apenas do indivíduo. É pensando nisso que a psicanálise pode nos ajudar a compreender melhor esse estado de espírito do presente.
Quando líderes políticos negam o aquecimento global, ou quando indivíduos dizem que "não adianta fazer nada", muitas vezes estão protegendo algo muito mais profundo do que uma opinião: estão evitando o enfrentamento de uma verdade insuportável, porque admitir o colapso exige transformação. E mudar assusta e custa caro. O valor dessa mudança certamente é econômico mas, sobretudo, simbólico.
É nesse sentido que para que mudanças estruturais possam de fato ocorrer, é necessário repensar as formas de habitar e de pertencer. Esse pertencimento precisa ser cultivado cotidianamente nas escolhas que fazemos, nos vínculos que fortalecemos, nos modos como ocupamos o território.
A transformação precisa ser coletiva, institucional e estruturante, pois ao passo que envolve políticas públicas, mudanças no modo de produção, redistribuição de recursos e justiça climática, ela também precisa ser afetiva, sendo atravessada por políticas de cuidado mútuo, que acolha as subjetividades culturais possíveis.
Esse futuro, se vier, será tecido por muitos fios. Uns virão da ciência, outros da filosofia, outros da arte, da espiritualidade, da escuta. E precisamos de todos eles. Não há saída única, nem mesmo uma resposta certa, mas há perguntas urgentes: como viver depois do fim? Como construir outros mundos possíveis dentro deste?
Te daremos um spoiler: É necessário pensar e repensar as formas de habitar o mundo, entendendo que o cuidado em saúde mental é uma ferramenta central de emancipação socioambiental.
Nesse exercício de pensar coletivamente sobre essas questões, o curso Contra o Fim do Mundo: Ideias para Reconstruir o Amanhã da Casa do Saber abrirá os caminhos para uma discussão profunda e emergente sobre um novo imaginário coletivo impactado pelas transformações ambientais nas emoções humanas.
Com dois encontros potentes, o curso reunirá nomes como Renato Noguera, Geni Núñez, Ana Lizete Farias, Luiz Alberto Oliveira e Guilherme Moura Fagundes. Juntos, eles discutem a crise climática a partir de várias lentes: os afetos, a ancestralidade, o trauma coletivo, o papel da arte, os impasses da modernidade e as saídas possíveis.
O mesacast te convida a fazer perguntas corajosas e a uma escuta generosa. Porque reconstruir o amanhã começa assim: aceitando que o fim não é só tragédia, mas também encruzilhada. E que imaginar outros mundos ainda é, e sempre foi, um ato de resistência.
Você também pode explorar mais sobre o tema no curso A Vida, o Tempo e a Morte: Um Pensamento Indígena, com Kaká Werá.


.webp)

.webp)