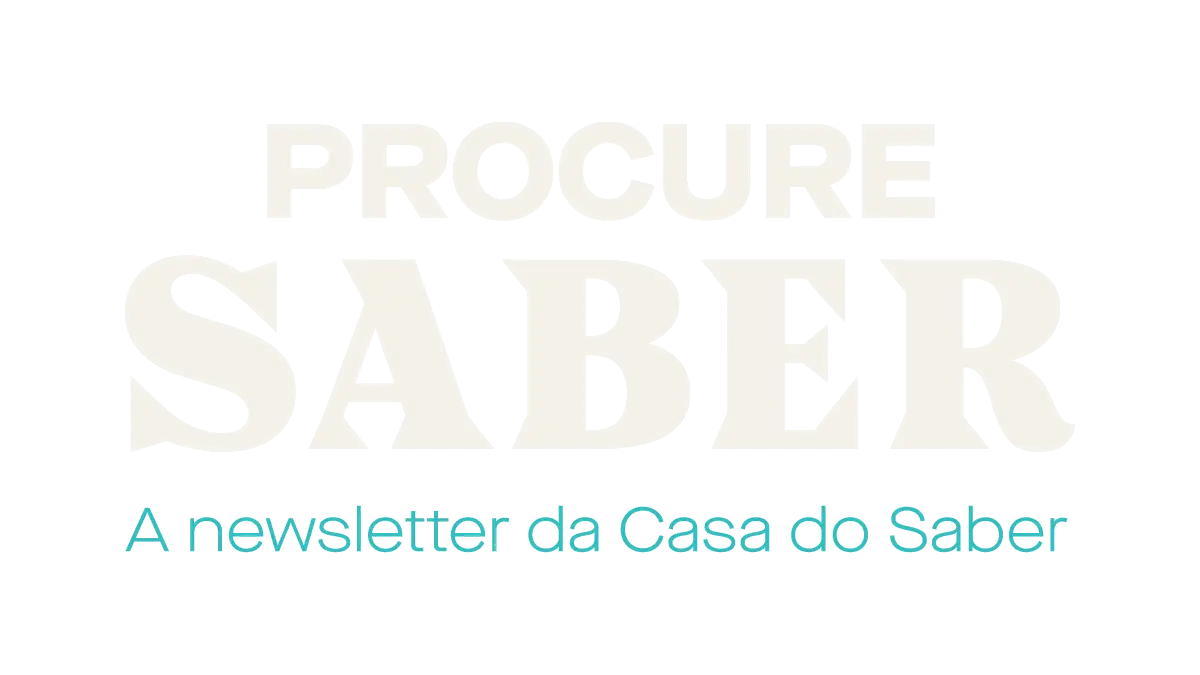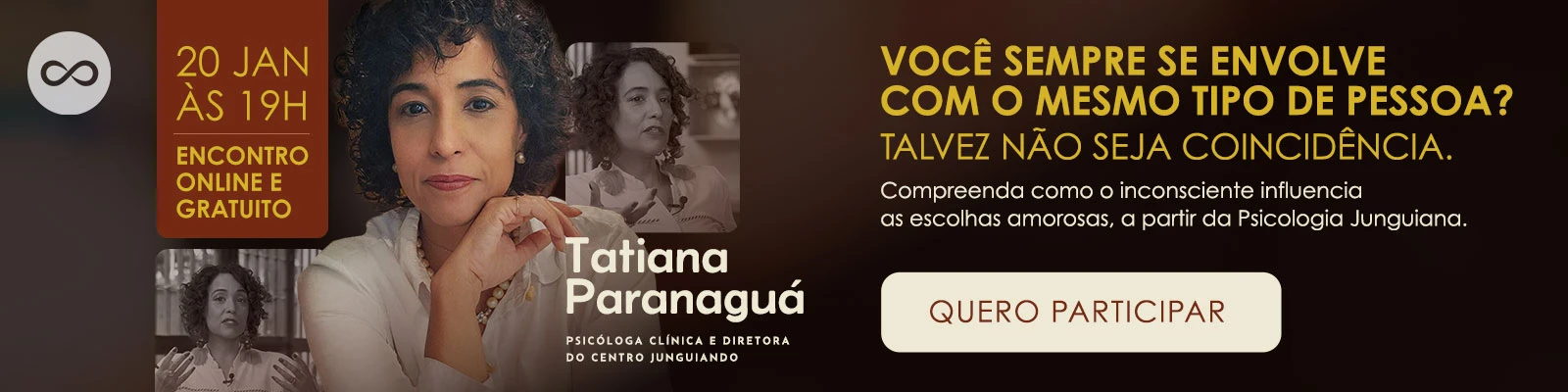
Falar sobre saúde mental tem se tornado uma pauta cada vez mais urgente. Quando se trata de saúde mental de crianças e adolescentes, a compreensão de uma vida saudável psiquicamente se torna ainda mais subjetiva e complexa. É um tema que desperta empatia, mobiliza campanhas e hashtags, mas que exige algo mais profundo: um compromisso de enxergar o que realmente estamos fazendo com as emoções e comportamentos das novas gerações.
Nos últimos anos, tem me inquietado observar o quanto a sociedade tem transformado em “doença” aquilo que, muitas vezes, é uma expressão legítima do crescer. Os muros da psicopatologização foram expandidos e passaram a englobar a infância e a adolescência como símbolo estrito, de modo a atribuir, quase que automaticamente, rótulos clínicos às múltiplas formas de ser, sentir e reagir. Vemos a nossa sociedade incorporar na linguagem os signos e elementos de um discurso ainda firmado no estigma e na desinformação, de modo a distanciar ainda mais o suporte, sobretudo, da atenção básica.
É fato que existem crianças e adolescentes que enfrentam maiores desafios e que necessitam de uma atenção mais especializada, no entanto, o que nos parece, é que patologizar e medicalizar se tornou a principal forma de lidar com as diferenças do desenvolvimento.
Essa tendência não é apenas clínica; é social. Ela atravessa escolas, famílias, consultórios, redes sociais e até as produções audiovisuais e o jornalismo. E isso se dá porque o nosso tempo parece não tolerar a ambiguidade de quem está no processo de formação de uma identidade. A agitação precisa de causa psiquiátrica, a diferença precisa de tratamento, o luto precisa de cura.
O desconforto e a frustração, que são partes inevitáveis da experiência de amadurecer, passam a ser entendidos como sinais de anormalidade, e isso se agrava quando pensamos nos jovens que estão aprendendo a lidar com emoções, relações e identidades em um mundo cada vez mais acelerado e exposto.
Crianças e adolescentes estão sendo empurrados para a lógica do desempenho, da produtividade e da autoanálise precoce. Esperamos deles uma maturidade emocional que nós, adultos, muitas vezes não temos. Exigimos autocontrole, disciplina, resiliência e, quando isso não aparece, classificamos como desvio, como sintoma. O caso recente do Felca, criador de conteúdo que denunciou a adultização digital e a exposição indevida de menores nas redes, escancarou esse problema de forma simbólica.
O vídeo em que ele questiona a forma como a internet sexualiza, cobra e explora a infância viralizou e mobilizou o debate público, a ponto de avançar a implementação de uma proposta de lei direcionada à proteção de crianças no mundo online. Para além da denúncia de um crime, esse caso nos mostrou que há algo profundamente equivocado na forma como a nossa sociedade encara a infância hoje: exigimos maturidade, mas negamos proteção, ao passo que queremos autenticidade e autonomia, mas pressionamos pela performance e pelo rendimento.
No mesmo passo, vemos uma crescente medicalização infantil. Uma pesquisa realizada por psiquiatras e por neurologistas da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), do Instituto Glia de pesquisa em neurociência e do Albert Einstein College of Medicine (EUA), mostra que aproximadamente 3 em cada 4 crianças e adolescentes em uso de psicofármacos para TDAH no Brasil não receberam um diagnóstico correto.
Por outro lado, uma pesquisa da USP, Unifesp e UFRGS aponta que cerca de 80% dos jovens com sofrimento psíquico não chegam a receber atendimento especializado, mesmo em grandes capitais. Quando olhamos para esses dados em conjunto, percebemos uma contradição que, na verdade, nos revela um fenômeno mais amplo, sustentado pelo distanciamento do acesso à recursos de saúde mental, pela desinformação, pela baixa capacitação de profissionais fora dos centros urbanos baseadas em evidências, somados ao crescente autodiagnóstico feito por jovens que recorrem a medicamentos sem prescrição médica.
Assim, não falamos apenas de uma questão de saúde, mas de um fenômeno social que escancara os múltiplos processos de adoecimento infantojuvenil no país. Jovens de 12, 13, 14 anos falam abertamente sobre “ter TDAH”, “ter ansiedade”, “ter depressão”, baseados em vídeos curtos no Tiktok, em listas de sintomas ou experiências alheias. É um fenômeno compreensível – afinal, há um desejo legítimo de nomear o que se sente, de encontrar pertencimento –, mas extremamente perigoso quando substitui o acompanhamento profissional e o diálogo real. Não podemos esquecer que o autodiagnóstico é também um reflexo das desigualdades que estruturam o país.
O comportamento considerado “agitado” em uma escola muitas vezes é visto como “espontâneo” em outra realidade socioeconômica. Meninas negras são chamadas de “difíceis” ou “agressivas”, enquanto meninos brancos podem ser “cheios de energia”. As violências simbólicas e institucionais se somam e produzem realidades muito diferentes. É por isso que não podemos discutir saúde mental infantil sem discutir racismo, pobreza, insegurança alimentar, falta de moradia e ausência de lazer. Não se trata apenas de funções ou disfunções cognitivas, mas de contexto.
Os fatores de adoecimento de crianças e adolescentes no Brasil não se limitam exclusivamente a predisposições individuais, pois as condições de vida também são fatores determinantes para uma saúde mental. É preciso considerar as longas jornadas de cuidadores – e, principalmente, cuidadoras –, o esgotamento de professores, as escolas sucateadas, os bairros sem áreas seguras para brincar, a violência cotidiana que atravessa os corpos e os vínculos. É a ausência de tempo para existir sem ser produtivo, o medo, a comparação constante nas redes. É o bullying, o machismo, o racismo, a homofobia, a fome. Tudo isso adoece diariamente, e quando traduzimos em termos puramente clínicos, perdemos a dimensão social e política do sofrimento.
Há também uma desigualdade de acesso brutal nos modos de cuidar. Enquanto alguns jovens têm acesso a psicoterapia, espaços de escuta e acolhimento, outros enfrentam meses de espera no SUS, falta de profissionais especializados na atenção básica e uma precarização crescente da rede de atenção psicossocial. Um direito que deve ser de todos, passa a ser de poucos.
Por outro lado, existem experiências potentes que mostram que é possível fazer diferente. Escolas que criam espaços de escuta, rodas de conversa sobre emoções, tempos de pausa, currículos que valorizam a arte, o corpo e o brincar. Territórios em que a cultura, a comunidade e o cuidado se misturam, e o sofrimento é compreendido como algo compartilhado, não isolado, e que faz parte da vida. Quando o cotidiano familiar, social e escolar reconhece o sentir e a subjetividade como parte da aprendizagem, o diagnóstico deixa de ser o único mediador possível entre comportamento e cuidado.
É nesse sentido que falar sobre psicopatologização, portanto, não é atacar a psiquiatria ou negar a importância da clínica, mas é lembrar que o sofrimento psíquico é também social, cultural e político e que todos nós devemos estar na posição de protagonistas do cuidado em relação às crianças e adolescentes.
Nossos jovens pedem (de modo verbalizado ou não) por afeto, escuta, tempo e, sobretudo, cuidado. Por isso hoje, no Dia das Crianças e após o dia Mundial da Saúde Mental (10/10), precisamos lembrar que o cuidado não pode ser terceirizado apenas aos consultórios ou aos medicamentos, pois a solução passa por criar redes de proteção que deem tempo e espaço para que crianças e adolescentes cresçam em sua plenitude: escolas que valorizem o brincar e a escuta, famílias que abram espaço para o diálogo, comunidades que ofereçam cultura, arte e pertencimento e uma clínica que considere as subjetividades e particularidades dos sujeitos.
Saúde mental está para além do diagnóstico, pois se trata de vínculos, de políticas públicas que garantam lazer, segurança e educação de qualidade, e de adultos que saibam proteger e apoiar sem rotular. Se queremos uma geração mais saudável, precisamos garantir que ela possa crescer sem que o sentir seja tratado como falha.
Por isso, o cuidado de crianças e adolescentes não deve ser uma responsabilidade integral deles mesmos, ou apenas de seus pais, cuidadores ou responsáveis. Eles são nossa responsabilidade constitucional e moral enquanto sociedade. Todos nós somos responsáveis por esse futuro, e esse futuro depende do cuidado que escolhemos dar para eles hoje.

.webp)

.webp)