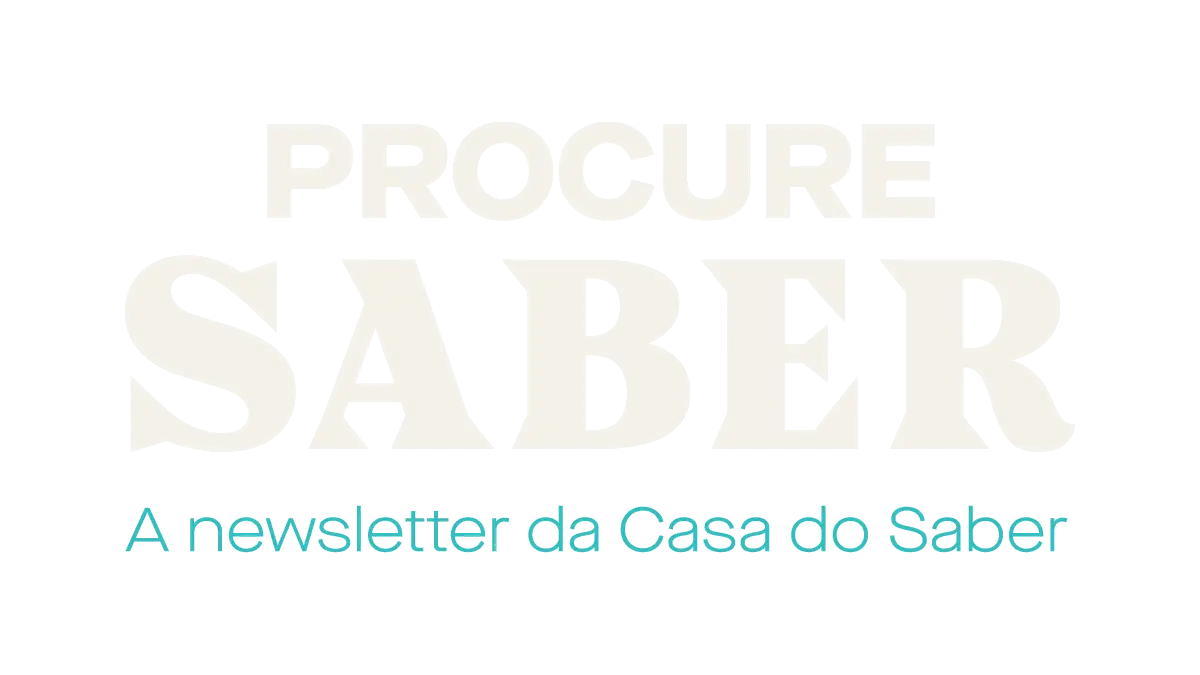Se você sente que descansar virou um luxo, ou pior, uma atividade que precisa valer a pena, saiba que não está só. O mundo ocidental que habitamos nos convenceu de que parar é, na melhor das hipóteses, um meio para seguir produzindo.
Na pior, é preguiça, desperdício, fraqueza e perda de tempo. Não é coincidência: vivemos atravessados pela máquina da produtividade, onde até o autocuidado, o lazer e a meditação são engolidos por uma engrenagem que não admite freios.
Quando foi que descansar se tornou um problema? Quando foi que o silêncio passou a incomodar, que a pausa começou a provocar desconforto e que o não fazer deixou de ser simplesmente parte da vida para se transformar em algo que exige justificativas? Olhar para essa pergunta com a devida seriedade talvez seja uma das tarefas mais urgentes do nosso tempo.

A lógica que estrutura a vida contemporânea parece ter nos convencido de que parar só é aceitável se for para, em seguida, produzir mais. Dormir, meditar, relaxar, cuidar do corpo ou da mente são ações válidas, desde que sirvam à máquina.
Caso contrário, são vistas como fraqueza, desperdício, improdutividade ou até culpa. Essa não é uma sensação isolada. É, na verdade, um sintoma coletivo, profundamente entranhado na cultura do imediatismo e do capitalismo.
A engrenagem da produtividade não apenas organiza as rotinas, mas invade os corpos, modela os desejos e captura até os espaços que, em outro tempo, eram reservados ao ócio, ao vazio, à contemplação.
Vivemos na era da performance permanente, na qual o sujeito é, simultaneamente, trabalhador, gestor, vigilante e executor de si. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han nomeou esse fenômeno como sociedade do cansaço, para tratar sobre os modos como vivemos um esgotamento generalizado marcado não por uma repressão disciplinar, mas por uma autoprodução, hiper exigência e positividade excessiva.
Para ele, vivemos um tempo em que a opressão não se dá mais por meio da coerção explícita, mas pela autoexploração voluntária, na qual há uma cobrança constante, silenciosa e devastadora, que parte do próprio sujeito. Certamente, esse processo nos foi estimulado para ser naturalizado.
A armadilha é sutil e, justamente por isso, extremamente eficaz. O descanso, que deveria ser um direito inegociável, foi convertido em mais uma etapa desse ciclo, sendo hoje, não mais visto como um fim em si, mas um meio, uma estratégia, uma tática de otimização.
Podemos dizer que se tornou uma breve parada, cuidadosamente calculada, para garantir esse funcionamento sem riscos de pane.
Dormir mais de 8 horas por noite, fazer atividade física com extrema excelência, participar de clubes de corrida, meditar para manter paz de espírito, alimentar-se de forma saudável através de marmitas que duram um mês, procurar terapia que auxilie a produzir mais, e tantos outros mecanismos de otimização de tempo que nos impedem de compreender qual, de fato, é a problemática nisso.
A questão é que nenhuma dessas práticas escapa da lógica da utilidade. Elas são recomendadas, estimuladas e até vendidas como recursos para melhorar desempenho, sustentar produtividade, aumentar a capacidade de foco, reduzir as taxas de absenteísmo e, claro, entregar mais. O autocuidado virou tarefa, e até a pausa virou meta.
E se você falha, se não consegue relaxar, se não medita direito, se não dorme bem ou se não encontra tempo para cuidar de si, soma-se a isso uma nova camada de culpa: a de não conseguir nem mesmo descansar da forma correta.
Essa inversão, profundamente enraizada culturalmente, não é trivial. Ela produz marcas que não são apenas subjetivas, mas estruturais, porque essa não é uma questão de organização pessoal, nem de gestão de tempo, é a consequência de uma lógica que rejeita tudo aquilo que não pode ser convertido em valor, que não gera resultado, que não pode ser quantificado, mensurado ou monetizado.
O trabalho, que deveria ser apenas uma parte da vida, expandiu suas fronteiras até colonizar tudo: o tempo, o corpo, o desejo e, talvez mais grave, o próprio inconsciente.
A linha que separava o que é vida do que é trabalho se esgarçou até quase desaparecer. Essa cisão não é só simbólica, uma vez que ela se materializa em regimes de trabalho que formalizam, na prática, a impossibilidade de parar.
O descanso, assim, não aparece como direito, mas como concessão mínima. Um intervalo curto o suficiente para manter intacto o pacto central dessa engrenagem: a de que a maior parte do tempo humano e, portanto, da vida, deve, necessariamente, estar a serviço do trabalho.
E é curioso como essa mesma lógica se disfarça de liberdade. Hoje, você pode ser “seu próprio chefe”, gerir seu próprio tempo, escolher seus próprios projetos, desde que aceite estar permanentemente disponível, conectado, produtivo.
A retórica da autonomia é sedutora, mas quase sempre esconde um regime ainda mais perverso de exploração: aquele no qual o sujeito se torna empresário de si mesmo, gestor da própria precariedade e, muitas vezes, cúmplice de sua exaustão.
A série Ruptura (2022) é, nesse sentido, uma metáfora precisa desse colapso. Na trama ficcional, os personagens se submetem a um procedimento cirúrgico que separa, de forma radical, suas memórias profissionais das pessoais.
No trabalho, não sabem quem são fora dali; e fora dali, não têm qualquer lembrança do que fazem no trabalho. Uma cisão absoluta entre o sujeito que vive e o sujeito que produz.
Parece distópico, mas talvez não tão distante assim do que já vivemos. A tentativa desesperada de compartimentar a existência e de criar fronteiras rígidas entre vida e trabalho, escancara não apenas a violência dessa lógica, mas também sua inviabilidade, porque não há divisão possível: o corpo que adoece no trabalho é o mesmo que tenta, em vão, descansar do lado de fora.
E esse adoecimento não é invisível, pois ele tem nome, rosto, sintomas e diagnósticos: Burnout, ansiedade, depressão, estresse crônico, distúrbios do sono, dores musculares, transtornos alimentares.
São manifestações psíquicas e físicas de um corpo que, submetido à lógica da exaustão permanente, começa a colapsar. E, ainda assim, esse colapso é frequentemente interpretado como falha individual, como se fosse problema de gestão de tempo, de má organização, de falta de disciplina. Como se não estivéssemos, todos, submersos em uma cultura que simplesmente não admite a possibilidade de parar. E esse, é um pedido de socorro.
É aqui que a crítica precisa se radicalizar.

Psicanálise e Filosofia: freios possíveis
A boa notícia é que ainda existem ferramentas para tensionar, deslocar e, quem sabe, romper com essa lógica. A psicanálise e a filosofia são duas delas. Ambas oferecem perguntas fundamentais que, na maioria das vezes, o mundo contemporâneo tenta silenciar.
Assim, a psicanálise nos convida a escutar o desejo, a distinguir o que, de fato, nos move, daquilo que apenas responde às exigências do outro. Ela permite produzir um deslocamento interno, quebrar pactos inconscientes, recuperar a possibilidade de existir para além da função, do desempenho, da entrega.
A filosofia, por sua vez, tem a coragem de recolocar no centro perguntas que parecem ter sido interditadas pela lógica do desempenho: para quem estamos vivendo? A serviço de quê? A que custo? O que, afinal, significa uma vida que vale a pena ser vivida?
E talvez seja aqui que a reflexão ganhe contornos ainda mais profundos. Romper com essa lógica não significa abdicar do trabalho, nem se retirar do mundo, mas significa, antes, reaprender a habitar o próprio tempo, a redesenhar a relação com o corpo, com o desejo, com o silêncio e com a pausa.
Significa aceitar que nem todo dia será produtivo e que nem toda pausa precisa ser útil. Que nem todo vazio precisa ser preenchido e que isso não é sinal de fracasso, mas, simplesmente, da própria condição de estar vivo.
Descansar não pode ser mais um meio para produzir melhor, mas precisa ser um fim em si. Uma prática ética, um direito inegociável, e uma forma de preservação psíquica, de cuidado, de resistência.
Assim, o descanso passa a ser um gesto político, pois, em uma cultura que só reconhece valor naquilo que se converte em mercadoria, poder parar é, sim, um ato profundamente subversivo.
É nesse sentido que talvez devêssemos recolocar o descanso no centro da vida. Não como estratégia de produtividade, nem como ferramenta de desempenho, mas como aquilo que ele sempre foi, antes de ser sequestrado por essa lógica: parte essencial da experiência de estar no mundo.
Isso significa também aceitar que não existe uma única maneira de praticar o cuidado de si. Esse processo é singular, multifacetado, atravessado por condições materiais, subjetivas e sociais, e precisa respeitar as individualidades e os interesses pessoais.
E é justamente por isso que ele nunca pode ser reduzido a uma fórmula pronta, a uma lista de tarefas, a um manual de bem-estar.
Talvez esse seja o convite mais urgente do nosso tempo: reaprender a parar. A sustentar o vazio, não como problema, mas como espaço fértil onde algo que não cabe nas métricas, nos algoritmos e nas lógicas do desempenho pode, finalmente, emergir. Um encontro consigo, talvez.
É exatamente nessa direção que caminham os cursos Onipotentes, Deprimidos e Excitados e Tempos Compulsivos: O Mal-Estar e o Sofrimento Psíquico em Nossos Dias da Casa do Saber. Estes cursos nos provocam a questionar os imperativos que estruturam nossa experiência contemporânea em sociedade.
E, mais do que isso, nos convoca a reconstruir nossa própria relação com o tempo, com o desejo e com o descanso não mais como um problema a ser resolvido, mas como um direito que precisa ser vivido. E, sobretudo, defendido.
Camila Fortes Franklin
Redatora | Casa do Saber


.webp)

.webp)