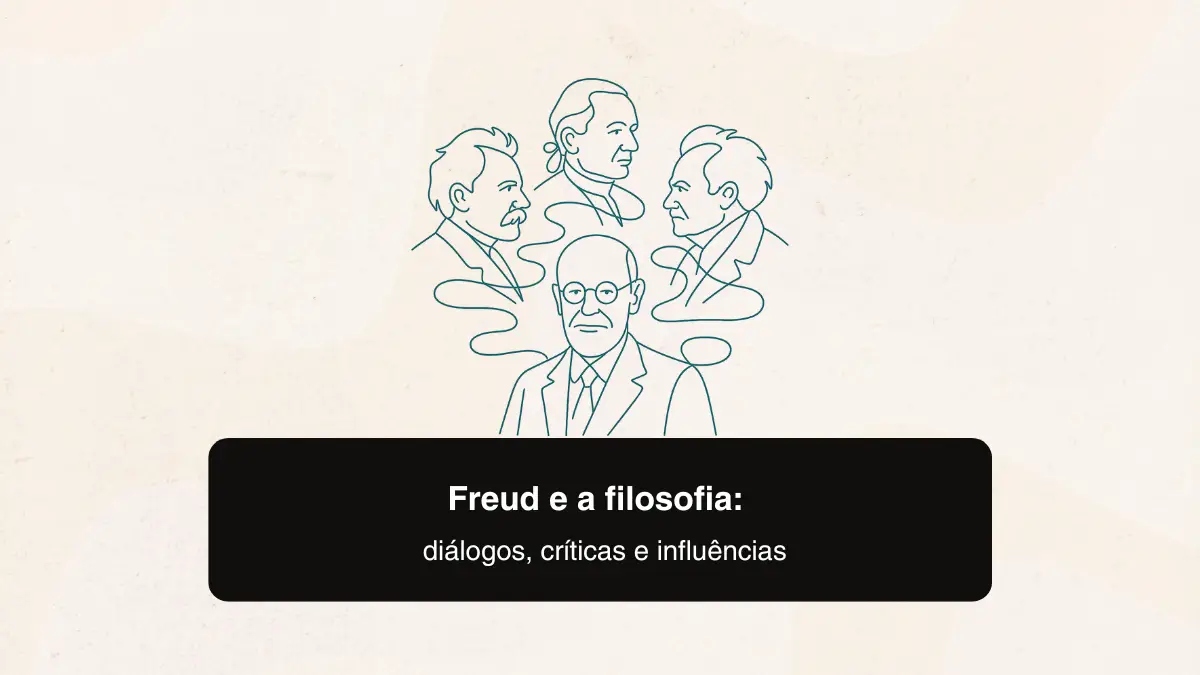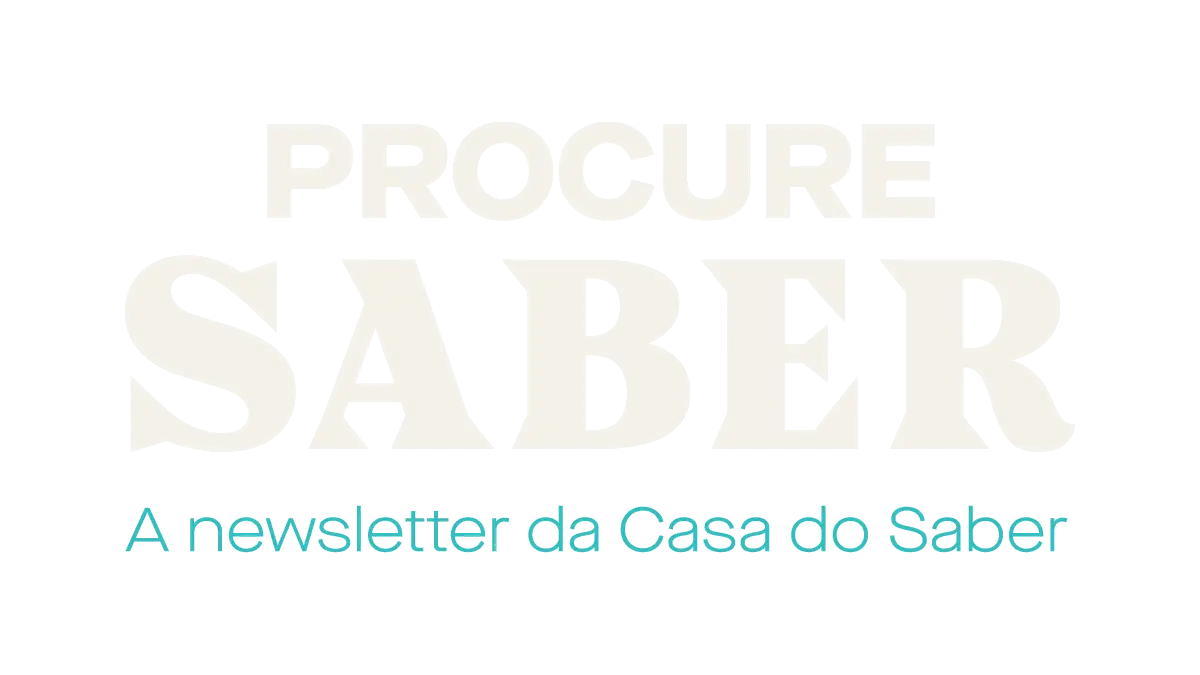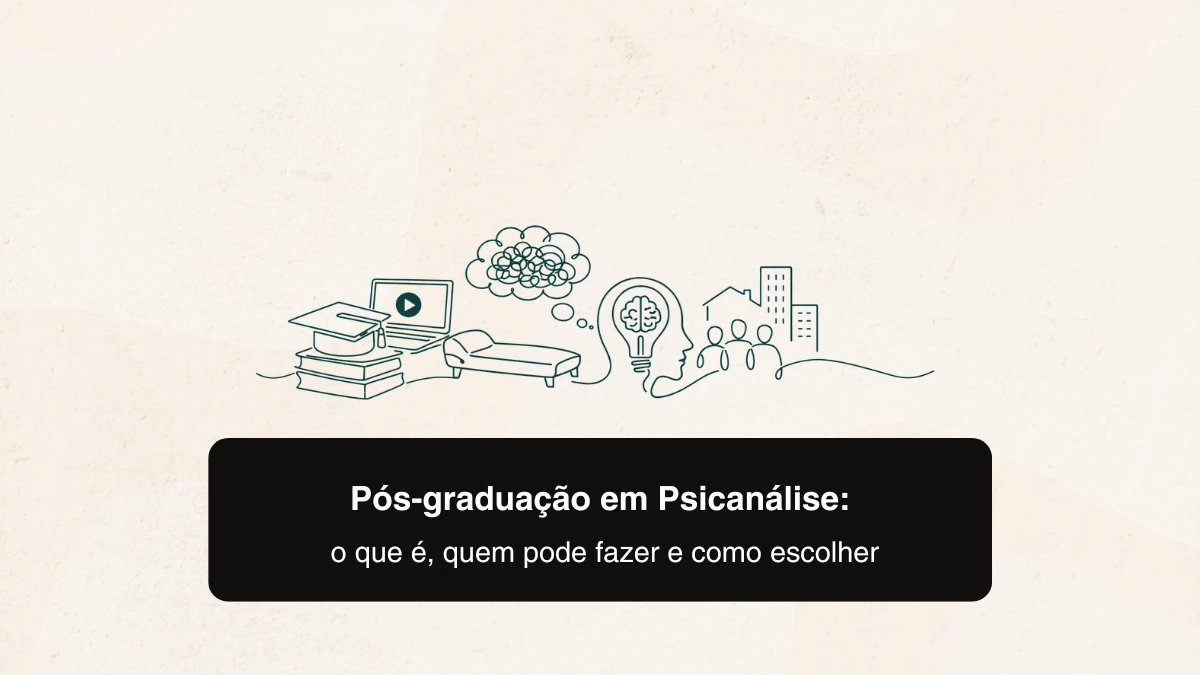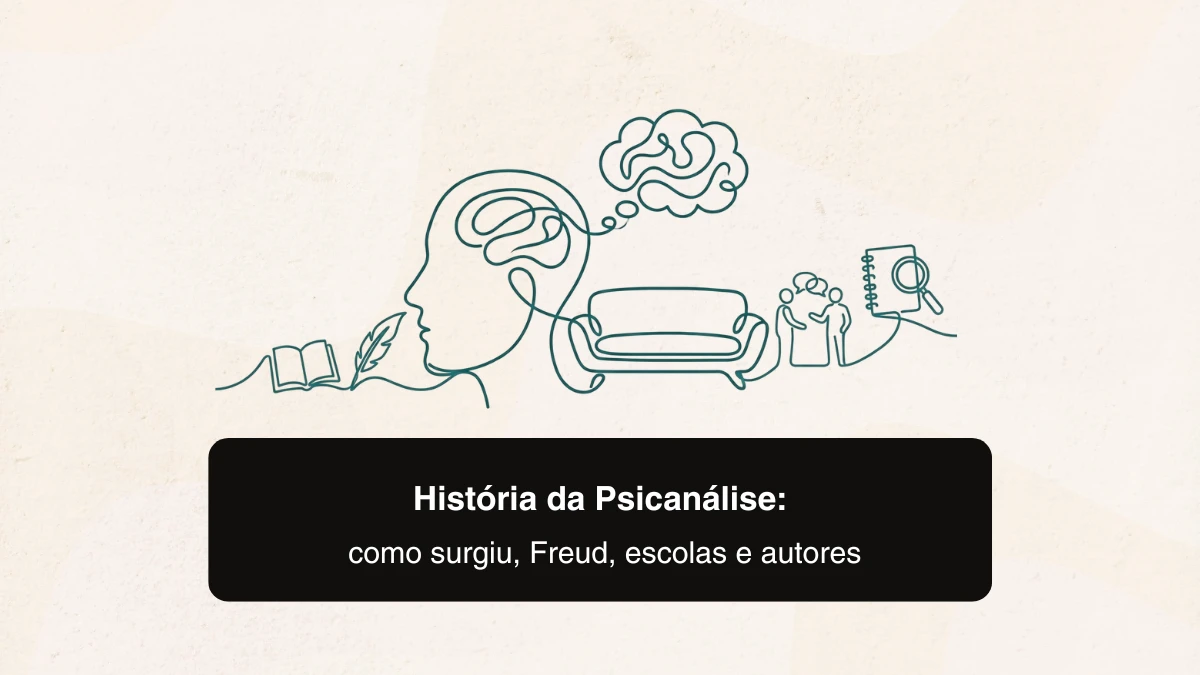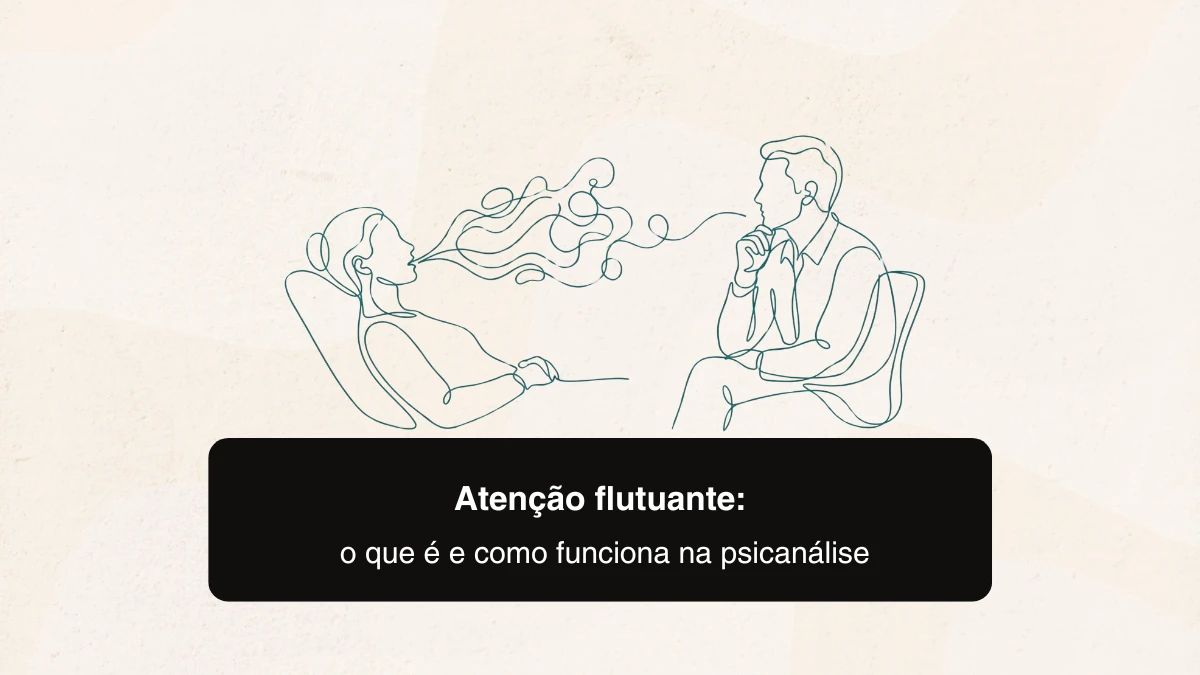Qual é a relação entre Freud e a filosofia? Embora o criador da psicanálise rejeitasse ser chamado de filósofo, sua teoria afetou profundamente o pensamento ocidental e virou referência obrigatória em muitos debates filosóficos dos séculos XX e XXI.
Neste artigo, vamos explorar por que Freud não se via como filósofo, como sua obra dialoga com nomes como Schopenhauer, Kant e Nietzsche, e de que forma a psicanálise transformou as ideias de sujeito, razão e verdade — provocando uma ruptura com a tradição racionalista da filosofia moderna.
O artigo abordará os seguintes tópicos:
Quando surgiu este convite para escrever sobre as relações da psicanálise com a filosofia eu fiquei simplesmente eufórico. Isto porque eu teria a oportunidade de revisitar uma época feliz do meu passado de estudos, algo que se inaugurou quando decidi fazer a minha Iniciação Científica enquanto cursava a Graduação de Psicologia na UFRJ.
Para quem não sabe, a Iniciação Científica é uma atividade muito comum nas Universidades Federais e Estaduais do Brasil (infelizmente o investimento em pesquisa pelas graduações particulares é muito baixo...), no qual os alunos escolhem determinado professor para começar a fazer parte do grupo de pesquisa por ele coordenado.
Este é o primeiro degrau da formação de um pesquisador, sendo o Mestrado e o Doutorado o segundo e o terceiro, respectivamente. E um vai levando ao outro: a Iniciação Científica fornece ao aluno as bases necessárias para o ingresso em um Mestrado e este faz o mesmo em relação ao Doutorado.
Para a minha Iniciação Científica, escolhi a orientação da Profa. Regina Herzog, cuja pesquisa concernia, justamente, em tecer algumas aproximações entre a psicanálise e parte do saber filosófico.
Foram, portanto, anos e anos trabalhando este tema. E durante esta última semana, para preparar este texto para vocês, foi bacana reler dois escritos que já tinha lido 462.964.297 vezes ao longo das décadas de 1990 e de 2000.
São eles o famoso “Uma história da razão” de Chatelêt (a meu ver, o melhor livro de introdução à filosofia que já existiu), além do belo “Desconstruindo a razão: de Schopenhauer a Freud” artigo publicado pela Regina no início dos 2000.
Vamos lá então!
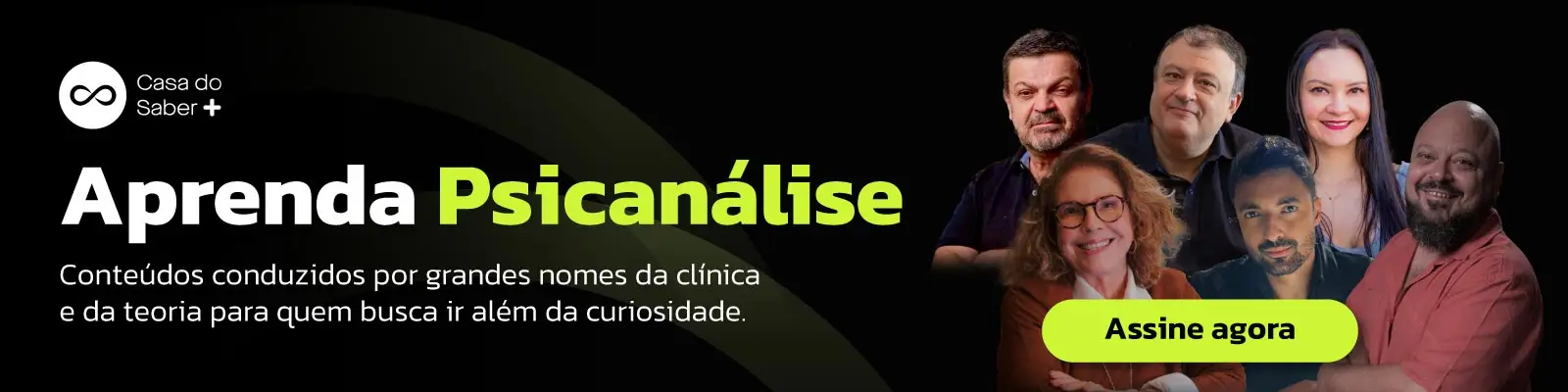
Freud era filósofo?
Não! E, inclusive, quem quisesse fazer com que Freud subisse pelas tamancas era só insinuar que ele era um filósofo. Simplesmente ele ficava uma arara e saía esbravejando palavrões em alemão pelos quatro cantos do Universo!
E tudo isto porque Freud não gostava lá muito dos filósofos. Particularmente, o que mais o incomodava eram as tantas tentativas destes homens de querer explicar os segredos do mundo mediante a simples atividade especulativa. Tamanha especulação tinha grandes chances de culminar em uma viagem surreal na qual Freud não desejava embarcar de forma alguma.
No entanto, não eram todos os filósofos que o desagradavam e, conforme veremos, a relação entre Freud e Schopenhauer era até marcada por uma série de elogios do primeiro ao segundo. O mesmo se passava com Kant a quem foram, inclusive, dedicadas algumas citações nos textos freudianos.
Agora, Freud e Nietzsche, a coisa era muito mais bizarra: é óbvio que a inspiração freudiana para escrever seu famoso “Mal-estar na civilização” veio do igualmente memorável “Genealogia da moral”.
Até aí tudo bem, não fosse o estranho fato de Freud jamais ter admitido esta vinculação, ninguém sabe exatamente o porquê. Mas ao lermos os dois livros, fica óbvio que a fonte e a inspiração do livro de Freud são nietzschianas.

Filosofia e clínica: a psicanálise é uma filosofia?
Também não! E esta questão é ainda mais espinhosa!
Segundo Freud, enquanto a filosofia é um saber especulativo, a psicanálise se diferencia por constituir-se enquanto um saber clínico. Com isto, ele almeja destacar que as bases da sua ciência eram, justamente, os mais diversos atendimentos que fazia com seus pacientes.
Assim, ao contrário do que ocorre com a filosofia, era sempre de uma questão ou observação clínica que Freud partia para depois – e só depois – teorizar sobre aquilo que observara em seus atendimentos.
Ora, tudo isto era muito estranho à filosofia que, de antemão, já partia para uma especulação ou teorização a respeito dos seus conceitos. Com a psicanálise, isto jamais deveria acontecer.
Por isto constatamos que foi somente após mais de duas décadas de atendimentos com suas histéricas que Freud postulou o conceito de inconsciente. De fato, primeiro ele se dedicou a toda uma prática clínica e somente em um segundo momento teorizou sobre o que observava e construiu conceitos a partir das questões e problemas suscitados.
Assim, foi por ter percebido, caso após caso, que as histéricas desconheciam uma parte considerável de si, que Freud postulou o inconsciente. Do mesmo modo, foi somente após ouvi-las bastante que ele passou a suspeitar da causação sexual dos mais diversos sintomas.

Portanto, ao contrário do que se passava no campo da filosofia, Freud jamais partiu de teorizações ou conceitualizações para construir a psicanálise. Pelo contrário, a clínica é sempre o momento inaugural de todo e qualquer conceito que a psicanálise venha a postular.
E é justamente por isso que a psicanálise jamais pode ser considerada um saber acabado. Ou seja, conforme novas questões clínicas iam surgindo para Freud, ele ia reformulando alguns dos seus pontos teóricos. Foi o que, por exemplo, aconteceu com os seus dualismos pulsionais.
De início, a clínica da histeria o levou a postular um dualismo pulsional entre as pulsões sexuais e as pulsões do eu. No entanto, tão logo ocorreu a Primeira Guerra Mundial e Freud passou a atender pacientes muito traumatizados, o dualismo pulsional foi revisto e, assim, deu-se a circunscrição do conflito entre as pulsões de vida e a pulsão de morte.
E também nós, psicanalistas contemporâneos, recorrentemente revemos as teorizações mais tradicionais a partir das diversas questões que a clínica nos coloca. Foi o que se deu, por exemplo, nos anos 2000, com a enorme incidência dos casos de anorexia e bulimia. Estes nos levaram a uma série de discussões sobre a concepção psicanalítica dos sintomas compulsivos a partir de uma releitura do “Além do princípio de prazer”.
Ou o que ocorreu logo depois com a grande procura por tratamento de sujeitos tomados pela “síndrome do pânico”. Isto, por sua vez, nos levou a reler Freud e a resgatar uma série de considerações presentes em “Psicologia das massas e análise do eu” que ainda não tinham recebido a devida importância ao longo da história da psicanálise.
E o mesmo acontece com os múltiplos casos de depressão que tanto nos batem à porta atualmente e que nos convoca a um redimensionamento dos conceitos ligados à esfera narcísica. Tudo isto com a intenção de tentar dar conta do sofrimento característico do século XXI que, em si, é muito diferente daquele descrito por Freud em fins do século XIX.

Psicanálise e filosofia
Mas óbvio que tudo isto não quer dizer que não possamos tecer as mais variadas articulações entre os campos da psicanálise e da filosofia. Pelo contrário, ambos os domínios são completamente atravessados um pelo outro, de forma que um estudo psicanalítico jamais pode dispensar algumas considerações filosóficas e vice-versa.
Neste sentido, fica marcado que a psicanálise em muito contribuiu para o campo filosófico a partir das suas mais variadas considerações a respeito, por exemplo, dos campos da ética, da racionalidade, da verdade e, sobretudo, da noção de sujeito.
Com efeito, Freud introduziu uma nova forma de pensar o ser humano que, podemos dizer sem exagero, funcionou como um paradigma para todos os outros debates filosóficos que se seguiram.
E é por isso que a psicanálise é sempre um capítulo obrigatório em qualquer tratado que se faça sobre a história da filosofia. Em outros termos, qualquer filosofia que se fez a partir de inícios do século XX teve que necessariamente levar em consideração o pensamento de Freud, seja como ponto de apoio, seja com um oponente, seja para tentar dar conta das múltiplas provocações que a psicanálise fez ao pensamento filosófico.
Leia Mais:
O sujeito dividido e a ruptura com a razão moderna
Tais provocações possuem como pano de fundo, principalmente, a concepção freudiana de que o sujeito é fundamentalmente dividido.
Trata-se de um postulado que vem a problematizar a visão cartesiana do sujeito identificado com a razão. Não que Freud esteja querendo dizer que o inconsciente corresponde ao irracional... Mais exatamente, ele almejou colocar que o inconsciente obedece a outra racionalidade distinta da lógica da consciência.
Segundo Freud (1915), o dinamismo inconsciente opera à parte da ideia que possuímos de tempo, com base na negação das contradições e sempre almejando a realização instantânea de todos os nossos desejos, ainda que de maneira alucinatória. Ora, tudo isto é muito estranho ao modo de funcionamento consciente.
E, nesta medida, o inconsciente – tido como o conceito mais fundamental da psicanálise – vem designar um domínio psíquico do qual o sujeito não possui o menor conhecimento.
Desta maneira, quando Freud coloca que o sujeito possui um inconsciente ele está querendo considerar que todos nós carregamos conosco um conjunto de desejos, fantasias e características que não conseguimos exatamente reconhecer como nossas. No entanto, todos estes desejos, fantasias ou características – ainda que desconhecidos – influenciam, de forma decisiva, nossas vidas.
Algo, portanto, que vai contra toda e qualquer concepção filosófica que antecedeu a Freud e que trabalhava no sentido de igualar o psiquismo à consciência, como se fosse possível ao sujeito adquirir um conhecimento abrangente a respeito de si.
Perguntas frequentes
Freud era um filósofo?
Não! E ele é, inclusive, bem incisivo ao colocar que a psicanálise jamais pode ser uma filosofia, pois enquanto esta parte de conceitos já prontos, na psicanálise, qualquer construção teórica só pode se fazer tendo a clínica como fundamento.
Qual a importância de Freud para a filosofia?
Ao postular o conceito de inconsciente e problematizar a ideia de que o sujeito é capaz de conhecer a si e ao mundo através da razão, Freud colocou uma série de questões de suma importância ao pensamento filosófico. A partir disso, ele veio a se tornar referência obrigatória para qualquer estudo filosófico dos séculos XX e XXI.
Qual a relação entre psicanálise e filosofia?
A psicanálise e a filosofia se atravessam em muitos aspectos. Freud herdou uma série de concepções oriundas do campo filosófico e, a partir de algumas considerações a respeito do sofrimento subjetivo, trouxe significativas contribuições, por exemplo, aos campos da ética, da racionalidade, da verdade e, sobretudo, da subjetividade.
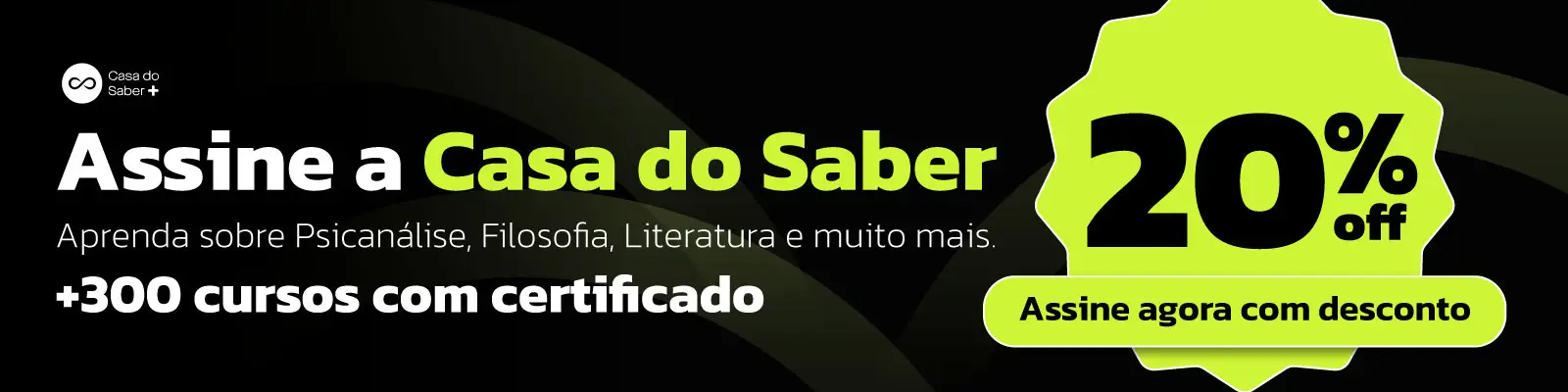
Este texto foi escrito pelo professor Ricardo Salztrager, psicanalista e professor associado da UNIRIO e da Casa do Saber. Possui Graduação em Psicologia, mestrado e doutorado em Teoria Psicanalítica pela UFRJ.
Referências:
Châtelet, François. (1994). Uma história da razão. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed.
Freud, Sigmund. (1915). O inconsciente. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. vol. 14. Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 163-222.
Herzog, Regina (1999). Desconstruindo a razão: de Schopenhauer a Freud. In: A psicanálise e o pensamento moderno. Rio de Janeiro: Contra-capa.


.webp)