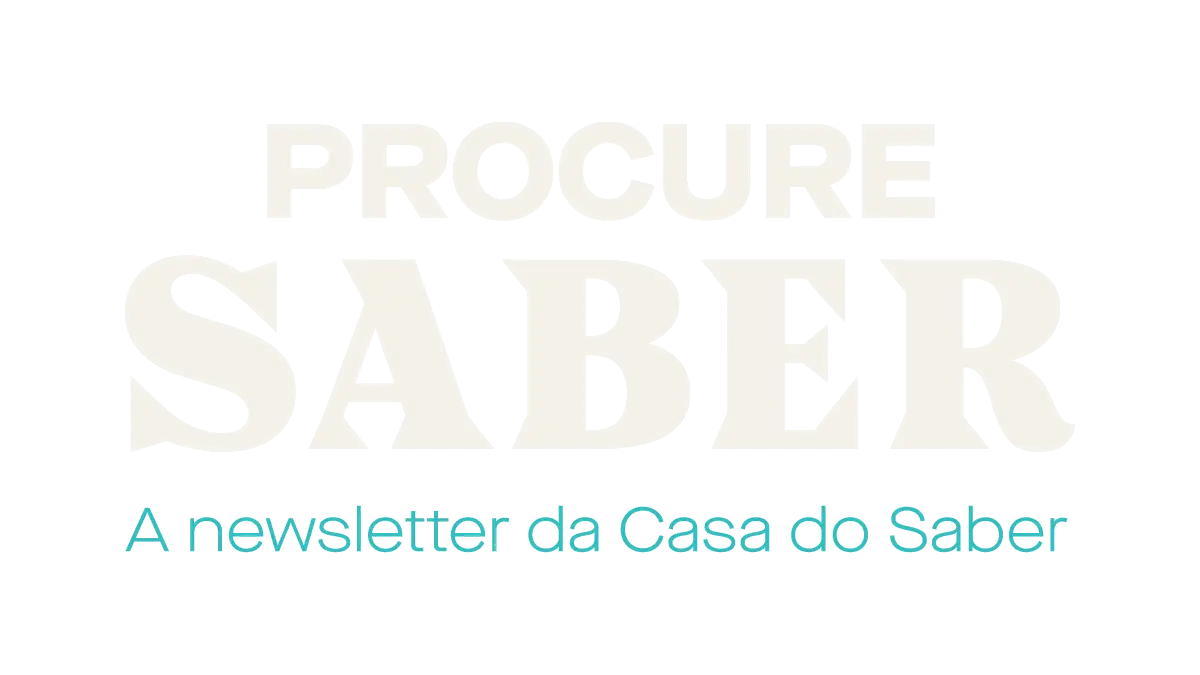Existe uma máxima de que “a filosofia não serve para nada” - ou não serve a nada, no sentido de que ela não pode ser instrumentalizada ou funcionalizada. Começar a entender a resposta à pergunta que dá título a este texto passa também pela compreensão de que ela não é um meio, um recurso, uma ferramenta. E ir além, claro, deste clichê que pode gerar curtidas, mas não nos diz muita coisa.
Filosofia é uma postura, é um gesto, é um exercício e, sobretudo, é este exercício de compromisso intransigente com a coerência, com a autenticidade, com a argumentação racional, sobretudo, esse retorno crítico aos fundamentos. (Oswaldo Giacoia Junior, na abertura da “Trilha da Filosofia”)
Mas, trocando em miúdos: o que tudo isso quer dizer? Como ela me ajuda a atravessar a vida? Onde está a linha que liga os diálogos de Platão, as críticas de Kant, o pensamento de Heidegger e todas as ideias ao redor à minha felicidade e a uma vida plena?
Antes de começar a ensaiar alguma resposta possível, vale aproveitar a ocasião para ir um pouco mais fundo na questão.
Em um mundo no qual respostas ágeis e imediatas prometem precisão e resolução rápida para problemas e desafios complexos, a filosofia se apresenta como um projeto de honestidade. Ao dizer de ir um pouco mais a fundo na questão, a proposta é de, antes de respostas, irmos atrás de saber fazer as perguntas.
Sim, dar alguns passos atrás e questionar se sabemos fazer perguntas por parecer, em alguma medida, entediante. Claro que se sabe fazer perguntas. Será?
Quando você leu, nas linhas acima, as palavras “felicidade” e “vida plena”, você pensou em quê? Ou quando leu a palavra “autenticidade”, que ideia veio à sua cabeça? Quais são e de onde vêm as referências que você tem para “felicidade” ou “autenticidade”? Ou mesmo para outros palavrões sempre polêmicos - “ética”, “justiça”, “moral” - que parecem sempre tão distantes e inacessíveis, mas que nos acompanham no dia a dia: “o que é fazer a coisa certa?”, “é possível ter confiar em tal pessoa (ou em tal instituição)?”, “é sempre errado mentir? Se não, quando é permitido?”, “por que somos ensinados que isso ou aquilo é errado ou proibido?”, “será que isso que me ensinam faz sentido, ou não?”
Parecem coisas banais - e, em certo sentido, são. Pois é no banal que a vida se constrói e acontece. Há, claro, as grandes reviravoltas que colocam os conceitos em xeque e os atualizam (ou os reafirmam), mas é no cotidiano que nos confrontamos com a construção daquilo que chamamos comumente de nossos valores, crenças, os ideais que nos guiam e orientam ao longo da existência. A filosofia mora exatamente aí.
Em “Introdução à Filosofia Contemporânea”, o filósofo e escritor anglo-ganês Kwame Anthony Appiah nos situa numa cena.
Imagine que você está andando por uma cidade qualquer, sem referência entre uma e outra viela, virando esquinas e sem saber onde está. Em determinado momento, você sobe e encontra uma torre, um mirante, ou um observatório.
Ao olhar a cidade de cima, começa a reconhecer as lojas, os becos, onde deveria ter seguido reto, virado à esquerda em vez da direita e assim por diante. Este ponto alto é a filosofia na discussão das grandes questões. Depois desse sobrevoo, caminhar pela cidade tende a ser mais prazeroso e, em certa medida, mais seguro.
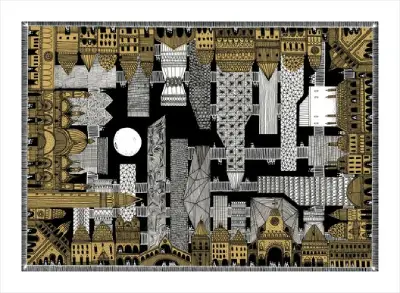
Quando Platão nos apresenta as alegorias da caverna, ou do anel de Giges, ele está falando com nosso cotidiano mais básico e imediato. Quanto de nossa vida não passamos acreditando serem verdades absolutas as ilusões que nos projetam e nos mobilizam? Seus valores e convicções se sustentam quando você se encontra em uma situação de poder absoluto?
Quando Nietzsche nos coloca diante do provocador demônio que enuncia as condições do eterno retorno do mesmo (“Esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes”), ele está costurando a própria trama da vida cotidiana, lançando luz sobre cada escolha nossa. E assim o fizeram todos e todas os pensadores e pensadoras - e seguem fazendo.
No entanto, a filosofia não nos traz as respostas ou chaves de imediato. O retorno às ruas da cidade não é livre de imprevistos, surpresas e contingências. As mudanças são inerentes à própria existência e a filosofia nos garante um certo “conforto nesse desconforto”, ou, como propõe a pensadora estadunidense Donna Haraway, ela nos convida a “ficar com o problema” e “fazer parentes” diante da incerteza.
Mesmo a angústia e o desamparo, nos ensina a filosofia dos existencialistas, são um caminho de reafirmação da vida e de possibilidade de construção de seu sentido (tão idealizado e buscado).
A filosofia nos capacita a acolher o não-saber sem o desespero de resolvê-lo imediatamente, ou sem ceder ao apelo da distração alienante que permite o distanciamento cada vez mais reforçado e profundo entre nós e aquilo que nos mobiliza e constitui.

Na publicação de “O Que É a Filosofia?”, em 1991, Deleuze e Guattari a traduziram categoricamente como “a arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos”:
“Criar conceitos sempre novos é o objeto da filosofia. É porque o conceito deve ser criado que ele remete ao filósofo como àquele que o tem em potência, ou que tem sua potência e sua competência (...) Os conceitos não nos esperam inteiramente feitos, como corpos celestes. Não há céu para os conceitos. Eles devem ser inventados, fabricados ou antes criados, e não seriam nada sem a assinatura daqueles que os criam”. (Gilles Deleuze e Félix Guattari em O Que É a Filosofia?)
Ao contorná-la assim, não como mera contemplação, reflexão ou comunicação, tratam a filosofia como uma forma de reconhecimento e navegação pelo mundo.
Conceitos são como um contorno vivo que permite essa travessia pela fragmentação dos fatos e desafios do dia a dia - e vivo porque, uma vez criado, passa também a atuar sobre o mundo, a modificá-lo e a nos informar de volta sobre cada interação.
Quando em algum momento da história se definiu, por exemplo, que tal ato é “certo” ou “errado”, que a “verdade” se alcança por um “método”, que a “razão” garantiria “liberdade”, esses conceitos passaram a pautar e direcionar o desenrolar da vida em suas múltiplas dimensões, sobretudo no investimento de nossa atenção, afetos e ideias.
Neste sentido, nada de outro clichê conhecido, da busca de sentido pela origem da palavra - o famoso “amor ao conhecimento” ou “amor à sabedoria”, da junção de philia e sofia.
Mais do que um exercício mental, intelectual, a filosofia em sua origem grega era um exercício espiritual, uma prática cotidiana. Era um modo de vida, como nos ensinam os professores Lucas Machado e Marcus Reis Pinheiro.
O nome, inclusive, pode ser apenas um conceito para descrever essa prática e essa postura. E, como todo “amor”, a relação com o saber pressupõe conflito e investimento: debater com as ideias, avançar, recuar, dar espaço, encontrar caminhos possíveis, ceder.
Aprender filosofia vai além de conhecer sua história e os conceitos elaborados por suas personagens, mas ser capaz de se valer disso para pensar o presente e o futuro. Para questionar e duvidar, inclusive, conceitos estabelecidos - ideias frequentemente são ressignificadas ou reapropriadas com as mais diversas intenções e para as mais diversas finalidades.
Aprender filosofia pode ser um antídoto, uma espécie de “imunização” contra a alienação e a manipulação - que, como outras imunizações, pode não ter cem por cento de eficácia, mas certamente garante alguma proteção.
Aprender filosofia passa por todos esses caminhos, mas parte de uma faísca aparentemente simples: o espanto, a inquietação, a inconformidade.
É possível que a filosofia não tenha tanto apelo para quem está em paz com a forma como as coisas estão, para quem não se afeta ou se mobiliza pelo que acontece ao redor. Ainda assim, mesmo sem saber, somos afetados por ela e, cedo ou tarde, a curiosidade (ou a necessidade) de conhecê-la vai surgir. Aqui está feito um convite.
Para aprofundar, explore os cursos da Casa do Saber.


.webp)

.webp)