
Eu não cresci ouvindo muitas histórias sobre a minha bisavó materna. Não cheguei a conhecê-la, pois nasci muitos anos depois do seu falecimento. Nesse caminho, tudo o que eu sabia sobre ela foi através do que minha mãe, minha avó, tias e tios contavam. Certamente cada um deles teve experiências e construiu lembranças muito particulares com dona Mireta, e até nos eventos compartilhados entre eles, cada um elaborou suas próprias memórias sobre o que foi vivido em conjunto.
Muitas vezes ouvi que minha bisavó adorava costurar, fazer crochê e aprender novas técnicas de bordados. Que ela fazia tudo com muita maestria, dando vida a belíssimos tecidos e ornamentos. A habilidade, que não foi apenas passada para minha avó, como também para minha mãe, para mim e para minhas irmãs, se tornou uma característica herdada de Mireta. Muitas vezes também ouvi que ela adorava plantar verduras e frutas no quintal de casa, e que dizia que tinha a “mão boa” para isso e para qualquer coisa que quisesse fazer. A sensibilidade para o artesanato e para trabalhos manuais, somada às difíceis condições socioeconômicas, faziam dela uma mulher que tudo ajeitava.
Mãe de 15 filhos, viveu a maior parte da vida no interior do Piauí, entre a capital Teresina e as cidades de Batalha e Esperantina. Em 1949, com 51 anos, Mireta ficou viúva após seu esposo cometer suicídio. No ano anterior, seu companheiro havia se tornado Prefeito Municipal de Esperantina, tendo recebido o cargo oficial da própria Mireta, então Secretária Guarda-Livros da Prefeitura. Apesar do lugar de prestígio da época, as condições financeiras eram difíceis e incertas, pois a política local não garantia estabilidade, muito menos para uma família tão grande. Décadas antes, uma irmã de Mireta também já havia se suicidado. Com os filhos já adultos, foi necessário encontrar os meios de sobreviver em um mundo que a adoecia e que não apresentava perspectivas de melhores condições de vida.
Doze anos depois, em 1968, ela passa por mais um luto: um de seus filhos falece em um acidente de avião, no Tocantins. O corpo, que nunca foi encontrado, deixou um luto que não pôde ser vivido, a não ser pela ausência física do filho. Mesmo Mireta passando a viver sob os cuidados da minha avó e do meu tio-avô, não eram raros os episódios depressivos que chegavam a comprometer de modo significativo a sua vida. A dificuldade foi tamanha, acumulada com a soma de outros lutos antes não digeridos, que minha bisavó foi manicomializada em um hospital psiquiátrico. O contexto de adoecimento psíquico também não dava trégua: seus filhos viviam um cenário de incertezas financeiras, com mudanças para outras cidades em busca de oportunidades de trabalho, com a casa na presença de crianças que exigiam cuidados, entre diversas outras demandas que não poderiam ser adiadas. Confiaram, então, que ali ela pudesse se recuperar e não sofrer tanto com o isolamento diário que o luto gerava.
Seus filhos e netos acompanharam de perto a sua rotina no manicômio, visitando-a quase todos os dias. Minha avó e meu tio-avô, em especial, faziam um revezamento para acompanhá-la, na esperança de que o que era considerado um tratamento, surtisse efeitos no dia a dia. O cenário era difícil para aqueles que precisavam dar apoio sem saber exatamente como. Eles também sofriam com a sua internação. Além das condições de vida, o fluxo de informações era precário e a urgência de cuidado era enorme.
Minha mãe conta que quando era adolescente, acompanhou algumas vezes a minha avó nas visitas ao hospício para visitar Mireta. Levavam sopas, mingaus, pães e produtos de higiene pessoal, porque as refeições e as limpezas certamente não davam conta dos cuidados básicos necessários. Nessas idas, lembra a minha mãe da solidão que habitava aquele lugar, apesar da sua superlotação. Diz que, ainda adolescente, percebia a tristeza nos corredores, no rosto das outras pessoas e também no da minha bisavó. E, mesmo sem entender o porquê Mireta estava lá, minha mãe sentia que naquele espaço onde o tempo parecia estagnado, qualquer gesto de cuidado e afeto com sua avó era uma forma de lembrá-la que ela não estava sozinha.

Alguns meses após a internação, um dia, minha avó e seu irmão foram visitar a matriarca no hospital psiquiátrico. O médico então informou que não havia mais necessidade de Mireta ficar internada, e que deveria apenas realizar consultas periódicas com um psiquiatra. Apesar da preocupação em tratá-la naquele hospital, seus filhos compreenderam que os cuidados do dia a dia, feitos por mãos conhecidas, com amor e paciência, poderiam oferecer muito mais do que qualquer medicação e eletrochoque. Tanto eles se sentiam solitários sem a mãe, que mesmo em uma situação que exigia cuidados, ainda era a presença materna que trazia alguma sensação de segurança e afeto a eles. Mireta seguiu sendo cuidada em casa até o seu falecimento, em 1983, com 85 anos.
Penso que o que sustenta a vida nessas horas é o conhecimento de que, mesmo quando tudo parece perdido, há quem fique. É nesse caminho que a solidão das mulheres denuncia um mundo que não sabe o que fazer com as dores femininas. Vemos, então, como o tempo nem sempre se encarrega de gerar mudanças estruturais e sistêmicas, pois vivemos não a repetição, mas a remodelação de novas formas de solidão nas mulheres que possuem relação direta com o desconhecimento do cuidado sobre elas.
Se na década de 1960 compreendia-se que uma das melhores formas de “cuidar” de mulheres era sobre o crivo manicomial – isso quando não as esqueciam lá de propósito –, pois confiava-se nas instituições psiquiátricas como agentes de cuidado, hoje normaliza-se a automedicação, a produtividade como cura e a autorresponsabilidade como saída única. Essa solidão expõe o quanto nos foi negado o direito de parar, de não dar conta, de simplesmente sofrer.
É curioso pensar que até onde a solidão habita, há também ali a chance da presença daqueles e, sobretudo, daquelas que nos acompanham nas nossas maiores dores. Resistir o cuidado e o afeto mesmo em condições tão adversas, é reafirmar que existimos para além do que nos foi imposto. É dizer que, mesmo quando a vida nos empurra para o fundo, ainda há quem nos alcance a mão. A solidão pode adoecer, mas a presença, ainda que dura e cansada, é o que nos lembra que somos humanas.
Para muitas de nós, a solidão não nasce do desejo de estar só, mas da ausência de espaços onde possamos existir sem precisar performar força o tempo todo. Ela nasce quando não há quem enxergue nossa dor como legítima, quando o choro se torna incômodo e quando o silêncio passa a ser interpretado como fraqueza e não como o único caminho possível para continuar. Se é no exercício de ser gentil com a solidão das mulheres, amplio essa gentileza também com minha avó, meu tio-avô, minha mãe, meus tios e tias, que deram o seu melhor para cuidar de uma mulher que não pôde ser cuidada nos diversos momentos de dor pelos quais passou na vida.

Talvez seja por isso que até hoje, no esforço de não deixar esquecer, que quando vejo minha mãe e minha avó olhando costuras, bordados, técnicas de crochê, relembro de Mireta. Existe algo ancestral nesses pequenos fazeres, algo que atravessa gerações de mulheres que nunca puderam escolher parar de sofrer, mas que aprenderam, ao menos, a suavizar suas dores abrindo uma fenda no tempo para criar beleza através de linhas e agulhas. Por isso penso que falar sobre a solidão feminina não é sobre buscar respostas para superar a dor, mas sobre nomear aquilo que tantas vezes tentaram calar, para assim, talvez, costurar novas formas de existir.
Anos depois da morte de Mireta, esse mesmo hospital psiquiátrico se tornaria palco de outro acontecimento marcante na minha família: foi na capela de lá que minha mãe e meu pai se casaram. Esse espaço, já antes familiar, ganhou um outro significado: onde um dia existiu tanta solidão, também poderia existir a promessa de companhia. Ou talvez tenha sido só mais um dia, em mais um lugar, onde a vida continuou acontecendo apesar de tudo.
Há dores que não se curam, que apenas se carregam, assim como há perdas que não se preenchem, mas que se aprende a conviver com o vazio que deixam. E, nesse caminho, o cuidado entre mulheres é esse fio (in)visível que nos mantém de pé, mesmo quando a solidão nos empurra para o chão. É ele que faz da loucura menos castigo e mais abrigo, porque transforma o insuportável em algo que se possa, ao menos, atravessar. Não é o tipo de cuidado que resolve tudo ou que elimina a dor, mas aquele que lembra que não estamos completamente sozinhas, ainda que, por vezes, possamos nos sentir assim.
_
Camila Fortes Franklin
Redatora | Casa do Saber
Bom Saber: Sugestões
Livro “A mãe eterna: Morrer é Um Direito” (2016) por Betty Milan
Um relato espantoso pela delicadeza e também pela franqueza com a qual a autora narra a passagem de filha para mãe da mãe. A mãe eterna narra a história da relação tão enlouquecedora quanto profunda que se estabelece entre uma mãe quase centenária e a filha, que se vê na condição de ser mãe da própria mãe, até o desenlace final.
Livro “A gente mira no amor e acerta na solidão” (2022) por Ana Suy
“Podemos ler que o amor contém a solidão em seu interior, pois no coração do amor está sempre a solidão, e por isso quem não suporta a solidão também não suporta o amor.” Escrito a partir de diálogos, A gente mira no amor e acerta na solidão, surgiu de experiências vividas pela autora em salas de aula, em sessões de análise (enquanto analisante ou analista), com amigos, em leituras de pesquisas teóricas.
Filme “O Quarto Ao Lado” (2024) de Pedro Almodóvar
O filme narra o reencontro de duas amigas, Ingrid e Martha, após anos de afastamento. Elas se reconectam em um momento delicado, com Martha enfrentando uma doença terminal e tomando a difícil decisão de abreviar sua vida. O filme explora a relação entre as duas mulheres enquanto lidam com a fragilidade da vida, a proximidade da morte e a importância da amizade e do afeto.


.webp)


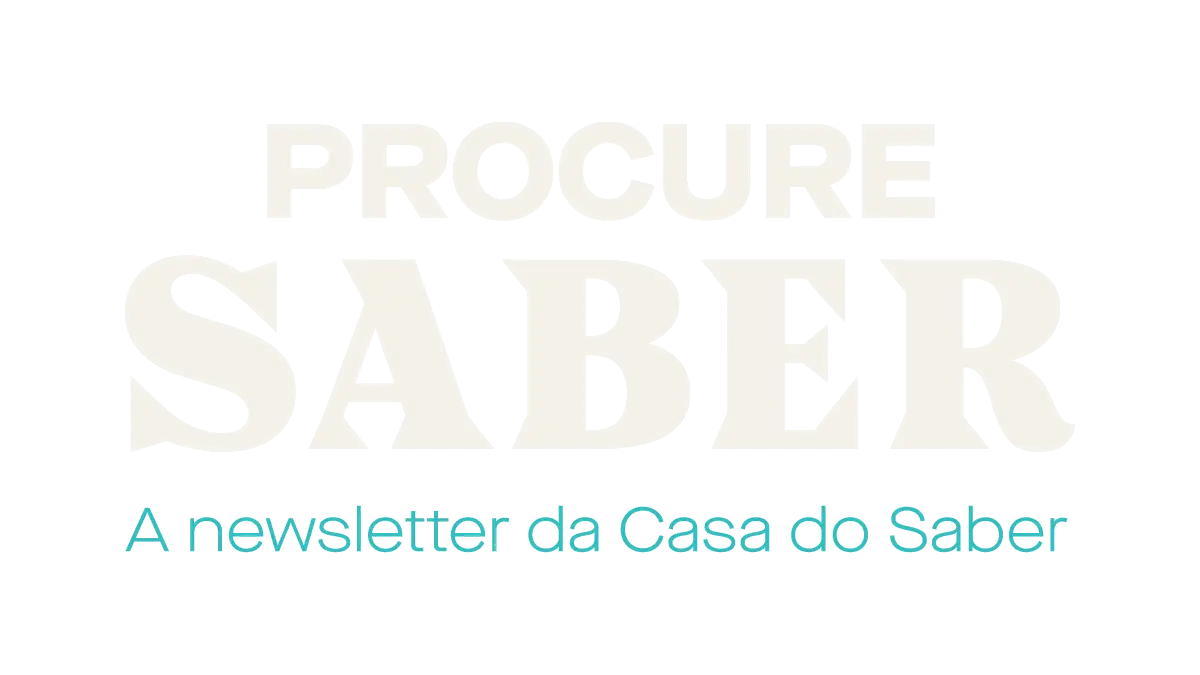

.webp)