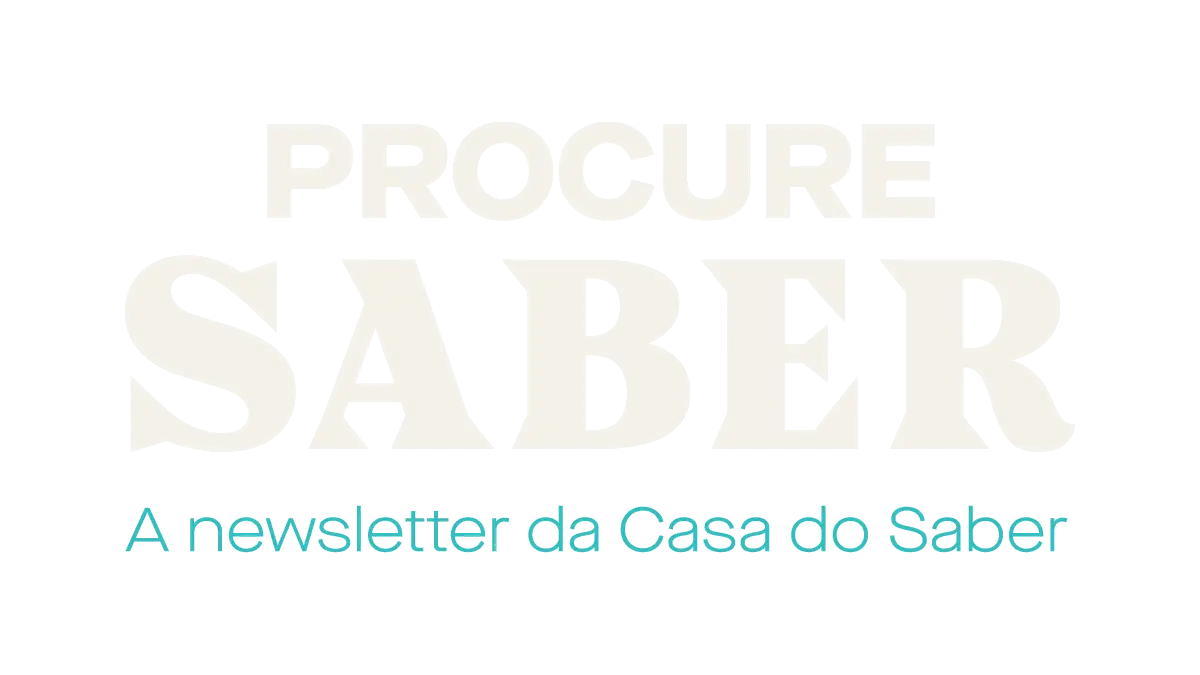Nunca se falou tanto sobre saúde mental como agora e, paradoxalmente, nunca estivemos tão atravessados por formas silenciosas de sofrimento psíquico. O cansaço crônico disfarçado de produtividade, a irritabilidade constante, a hipersociabilidade como fuga, o isolamento social disfarçado de “autossuficiência”, além da dificuldade de se concentrar e viver o presente, fazem parte da teia complexa que é o mapa “invisível” do sofrimento contemporâneo.
A subjetividade contemporânea é marcada por uma tensão constante: entre o imperativo da performance e a fragilidade das relações, entre a conexão incessante e a solidão mais profunda. O que isso diz sobre o nosso tempo? Que tipo de cultura estamos produzindo — e sendo produzidos por — quando o mal-estar se torna regra, e não exceção? Há algo na maneira como vivemos, nos relacionamos e nos percebemos que parece adoecer a própria experiência de ser.
Por isso, este texto é um convite à pausa. Uma tentativa de escutar esse mal-estar não como ruído, mas como linguagem. De olhar para o sofrimento não como falha individual, mas como sintoma de um tempo que atravessa a todos, mesmo que de modos distintos e em graus diferentes.

Na sociedade do desempenho, o sofrimento costuma ser interpretado como desvio: uma falha pessoal, um mau funcionamento da engrenagem produtiva. Somos treinados desde cedo a responder à pergunta “como você está?” com um “tudo bem” automático, ainda que por dentro, algo não esteja tão bem assim. O mal-estar não desaparece — apenas muda de lugar, silenciado ou disfarçado de agitação, produtividade, humor, distração.
A cultura contemporânea, marcada pela lógica da performance e da aceleração, nos impõe um modo de ser em que tudo deve ter função, valor e resultado. A atividade física é importante, desde que ela dê mais eficiência e rapidez. A alimentação equilibrada se torna prioridade, desde que se consiga gerar energia no corpo por mais tempo. E assim, segue: meditar para ser mais eficiente, fazer terapia para aumentar o rendimento, pausar para seguir correndo.
A linguagem do autocuidado foi capturada por uma racionalidade instrumental que, ao invés de oferecer abrigo, impõe mais uma camada de exigência: seja saudável, emocionalmente inteligente, resiliente, bem resolvido.
Nesse contexto, o sofrimento psíquico é muitas vezes percebido como falha individual, fraqueza moral ou problema técnico a ser rapidamente solucionado. Sentir demais tornou-se um fardo, um risco de ineficiência.
Mas o que acontece quando não há tempo nem espaço para que a dor seja simbolizada? Quando não há linguagem disponível para nomear o que nos atravessa, o sofrimento se transforma em sintoma: crises de ansiedade, pânico, depressão, compulsões, burnout. Não por acaso, essas formas de adoecimento psíquico se multiplicam em uma cultura que valoriza o controle e a positividade permanente.
Na tentativa de domar esses sintomas, a automedicalização se tornou uma válvula de escape, para um lugar que não se sabe bem qual é — desde que disfarce e amenize o sofrimento. Comprimidos para dormir, para acordar, para produzir, para suportar. Um silêncio químico que muitas vezes substitui a escuta, tornando a dor mais tolerável, mas também mais invisível. O que de fato está sendo medicado? A dor de um sujeito ou o sintoma de um tempo?
Quando a tristeza vira disfunção, o cansaço vira diagnóstico e o silêncio interior é rapidamente preenchido por estímulos ou substâncias, corremos o risco de perder a chance de escutar o que esses sinais estão tentando dizer.
Mais do que sintomas individuais, esses sofrimentos são expressões de um mal-estar estrutural. Eles denunciam um processo de adoecimento que se arrasta no cotidiano contemporâneo, e que busca encontrar as formas de continuar operando nas relações afetivas, profissionais e familiares. O sofrimento, apesar de doloroso, é também linguagem — ele aponta para algo que precisa ser simbolizado, elaborado, vivido.
A situação se torna mais preocupante quando situamos essa lógica em um contexto midiatizado, em que a ação só possui valor, se estiver online — pois estar conectado, é dizer que fez, e mostrar que fez, é afirmar que existe.
Obras como Black Mirror — uma espécie de parábola moderna em formato de série audiovisual — ajudam a tornar visível o que muitas vezes naturalizamos. Ali, vemos futuros distópicos cada vez mais presentes, onde a tecnologia nos retira a possibilidade do sofrimento e amplifica nossos desejos, mas esvazia nossos vínculos; onde a vigilância é íntima, voluntária e cotidiana, e a performance emocional é exigida o tempo todo, em sua máxima perfeição.
A 7ª temporada, recém lançada em abril, nos provoca a pensar sobre quanto custa o nosso bem-estar — em termos simbólicos e econômicos — e nos alerta sobre os impactos que as tecnologias têm sobre as nossas escolhas, opiniões, pensamentos e sofrimentos. Na série, se costura uma crítica não à tecnologia, mas ao uso que fazemos dela — revelando a linha tênue entre progresso e retrocesso da humanidade.

Como repensar o sofrimento e quais as alternativas
Como, então, repensar o cuidado? Como resistir a essa lógica que captura até mesmo nossas tentativas de cura? Talvez seja preciso revalorizar aquilo que a modernidade tentou descartar: o tempo da escuta, o não-saber, a convivência com o incômodo.
Em uma época que exige certezas e soluções, a aposta na escuta – ética e afetiva – é quase um ato de subversão.Escutar não é interpretar, corrigir ou consolar. É sustentar o vazio, acolher o que não se entende, permitir que o outro fale o que ainda nem sabe que sabe. É criar um espaço onde o sofrimento possa ser dito e conversado sem ser apressadamente encerrado. Assim, escutar se torna um caminho de cuidado consigo e com o outro, onde a subjetividade se revela como um lugar para que o sofrimento possa ser repensado, reorganizado e reinterpretado.
Nesse contexto, espaços de reflexão como a Casa do Saber tornam-se cada vez mais necessários, porque oferecem o que falta no fluxo contínuo da informação: pausa, profundidade, escuta. Não se trata de oferecer respostas prontas, mas de criar as condições para que novas perguntas possam emergir — sobre quem somos, sobre o que desejamos, sobre como viver juntos em tempos tão atravessados por rupturas, angústias e sintomas.
Cursos como “Tempos Compulsivos: O Mal-Estar e o Sofrimento Psíquico em Nossos Dias” ou “Manual Psicanalítico para Viver Melhor no Século 21” não pretendem ensinar fórmulas, mas ampliar o olhar. Aproximam pensamento e experiência, teoria e vida, e convidam a pensar o sofrimento a partir da psicanálise não como fracasso, mas como expressão legítima de um sujeito que busca existir, mesmo quando o mundo parece exigir o contrário.
Diante de tudo isso, talvez a pergunta que nos resta não seja “como eliminar o sofrimento?”, mas: como escutá-lo? Como repensar o lugar do cuidado e da escuta? Como, enfim, construir, culturalmente, formas éticas e afetivas de estar com o outro — e consigo — em tempos de ruído e pressa?
Assim como a provocação que este texto ensina, também não temos respostas prontas para responder essas questões. No entanto, esse é um convite a, quem sabe, começar a desenhar formas mais éticas, afetivas e conscientes de lidar com aquilo que insiste em doer — dentro e fora de nós.
Pensar essas questões é, também, uma forma de cuidado. E talvez o início de uma outra forma de estar no mundo. Aqui, o exercício recomendado é que possamos, constantemente, realizar mergulhos em nós mesmos para que saibamos como construir uma relação melhor com nossos próprios sofrimentos. Somos humanos. Sentimos, choramos, sorrimos, vivemos e, por isso, sofremos e temos o direito de sofrer.
Nosso tempo nos pede urgência, mas o sofrimento pede tempo. Nos exige respostas, mas o sofrimento quer perguntas. Talvez o gesto mais revolucionário hoje seja justamente esse: escutar o que dói. Pensar sobre essas questões não é apenas um exercício intelectual — é um gesto de resistência.
Contra a cultura do descarte, da pressa, da performance emocional. E a psicanálise, entre outras formas de escuta, pode ser um território fértil para esse enfrentamento sutil: ela não promete cura rápida nem soluções mágicas, mas oferece espaço. Espaço para que possamos existir.
Nesse sentido, escutar é um gesto político. Sentir é um ato de coragem. Sofrer, quando reconhecido e acolhido, pode ser também caminho. Não de volta ao "normal", mas em direção a um novo modo de estar: mais ético, mais afetivo, mais humano. Porque não se trata de eliminar o sofrimento — mas de transformá-lo em linguagem, em presença, em possibilidade. E nesse processo, que nunca é simples nem linear, talvez o mais revolucionário seja justamente isso: não desistir de sentir.
Para aprofundar, explore os cursos da Casa do Saber.


.webp)

.webp)